
Não é a primeira vez que falamos de séries aqui. Não deve ser a última. Black Mirror é uma série peculiar. De mini-série de apenas 3 episódios, voltou para uma segunda temporada onde consolidou o seu estatuto de mini-série de culto, merecedora de uma terceira temporada, mais ambiciosa, com seis episódios. A mesma que faz abrir muitas bocas de espanto e que a traz para este espaço.
Black Mirror é difícil de catalogar. Não é para todos os gostos e aborda algumas temáticas complicadas, com o primeiro episódio da primeira temporada a ter potencialmente afastado parte da sua audiência devido ao tema tabu da bestialidade. Talvez o mais fácil seja enquadrar a série numa espécie de Twilight Zone dos tempos modernos temperada com Tales of the Unexpected. Muito condensada, com poucos episódios mas brilhantemente concebidos e conduzidos, atrás e à frente das câmaras, a série é, sobretudo, perturbadora. Inquietante. Charlie Brooker, o criador da série, pergunta “se a tecnologia é uma droga – e parece sê-lo – então quais são os seus efeitos colaterais?”. E é, segundo ele, nessa área, entre o prazer e o desconforto que Black Mirror escava o seu ninho. O “espelho negro” é quase omnipresente nas nossas vidas: o frio, negro e reluzente ecrã de uma televisão, de um monitor ou de um smartphone.

My name’s Kevin. Kevin Bacon.
E é nessa visão entre a utopia e a distopia que Black Mirror se espraia, salvo raras excepções – e o primeiro episódio da primeira temporada é uma delas. Embora fuja um pouco de uma norma comum, Black Mirror caminha para uma entropia onde o futuro tecnológico é o mote para uma história em volta da natureza humana em todo o seu espectro de cores, da mais luminosa à mais profundamente negra. Nesse universo futuro gradualmente construído em Black Mirror, várias histórias – e episódios – se cruzam, ocasionalmente, com tentáculos aqui e ali a mostrar-nos os pontos comuns e a fazer despertar no espectador uma sensação de dejá vu.. E isso produz em quem assiste um misto de emoções. De assombro, de surpresa, de apreensão, porque, perante os cenários apresentados, determinadas consequências seriam bastante plausíveis, quase óbvias, e nem por isso menos assustadoras.

E se apagar alguém da lista de amigos fosse assim?
A última temporada será talvez a mais homogénea das três, com virtualmente todos os episódios a desenrolar-se num futuro onde a tecnologia é ubíqua. Desde implantes a redes sociais, passando por drones, realidade virtual, realidade aumentada e, claro, smartphones. E é basicamente por isto que vos escrevo estas linhas… em alguns dos episódios, e num muito particularmente, as fronteiras entre o virtual e o que percepcionamos como real são desfeitas. Umas vezes de forma gradual, outras com a delicadeza de um elefante numa loja de porcelana – e com resultados assustadoramente previsíveis. Até que ponto pode ou deve ir a tecnologia? Até que ponto é seguro avançar? E quão seguro é desenvolver nesse campo?
O mundo dos videojogos anda em alvoroço com as realidades aumentadas e virtuais. Kits de realidade virtual vão surgindo e começando a ganhar mercado, kits de hologramas e de realidade aumentada também. É um mercado extremamente apetecível para os videojogos que vêem ali uma forma de ultrapassar algumas das barreiras colocadas como entrave à entrada de uma percentagem da população no mundo dos videojogos. Mas o desenvolvimento destes não está isento de erros. Bugs continuam a manchar os maiores lançamentos dos videojogos, ano após ano. E bugs vão continuar a existir, a não ser que cada projecto seja exaustivamente testado antes de ser lançado, coisa que as pressões do mercado dificilmente permitem, nos dias que correm. É preciso terminar rápido, lançar, vender. E entende-se ser menos custoso corrigir erros depois de lançado o jogo do que aguardar mais uma ou duas semanas pelo seu lançamento.

Ready to play
E isso vai funcionando, por enquanto. O mercado continua a crescer. Mas, olhando para o futuro, olhando para aquilo que se mostra em episódios de Black Mirror como “San Junipero”, onde uma espécie de MMO onírico se sobrepõe à pessoa e jogador – muito na senda daquilo que descreve Ernest Cline no seu livro Ready Player One, presentemente a ser adaptado para cinema – ou “Men Against Fire”, em que cidadãos admitem ver a sua realidade manipulada e moldada por implantes, com tudo o que isso implica, ou, mais ainda, em “Playtest”, em que se inverte o fluxo e, em vez de se transportar o jogador para dentro do jogo, se transporta o jogo para dentro do jogador, sobrepondo-se este à sua leitura da realidade, estas questões relacionadas com o desenvolvimento, com a qualidade, com o rumo dos videojogos assumem outra importância. E este episódio “Playtest” pode ser visto como um conjunto de red flags a serem acenadas freneticamente. Sim, pode ser um bom caminho, mas vão com cuidado. Muito cuidado.
À medida que a realidade virtual vai deixando de ser virtual e passando a ser cada vez mais “real”, é preciso ajustar também critérios de desenvolvimento e de acompanhamento ao mesmo. Vá, de um ponto de vista menos teórico, passemos para algo bem presente nos dias que correm: o motion sickness ou o enjoo que alguns jogos/equipamentos de VR induzem. Ou para tamanha abstracção da realidade e adulteração dos sentidos que levem a que isto suceda:
https://www.youtube.com/watch?v=6n3vgZSwU_A
É um jogo, o utilizador sabe que é um jogo. Mas os nossos sentidos são manipuláveis, como qualquer bom ilusionista sabe. E o virtual passa a real quando integrado pelo utilizador. Não é o personagem que cai, é o jogador. E o jogador cai, no mais perfeito corolário daquilo que Matrix, dos irmãos Wachowski vaticinara há anos atrás: “quando morres dentro da Matrix, morres na vida real também”.
Então… até onde poderemos ir, realmente, nos videojogos? Poderemos esperar algo como aquilo que Black Mirror nos mostra em Playtest, um jogo todo ele jogado na nossa mente, em que o Hardware somos nós? Em que o medo, o desespero, a dor e a alegria são sentidas e experienciadas na primeira pessoa, no “eu”? E até que ponto devemos fazê-lo? A realidade virtual coloca-nos hoje ao alcance de um estender de braço a vivência das experiências na primeira pessoa, e o surgimento de dispositivos hápticos permitem alargar o espectro dessa experiência, pelo que deixamos apenas de ver e ouvir para passar a sentir toques, trepidações, pressão, temperatura, texturas… e para sentir cheiros também. E tudo indica que, daqui a alguns anos, algo como o que Playtest nos mostra venha a ser uma realidade: uma quase completa dissolução da fronteira entre o Homem e a Máquina. E, quanto mais ténue for esse interface, maior é a complexidade do desenvolvimento, maior é o impacto da experiência…
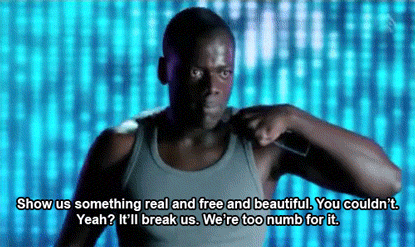
todos quebram. todos.
É que, à medida que nos aproximamos do Homem, as coisas começam a ter um impacto exponencialmente maior. E se falamos de experiências, falamos de emoções. E as marcas que essas deixam não podem ser menosprezadas. Os videojogos são um dos meios de entretenimento que mais facilmente marcam um utilizador. E as cicatrizes emocionais de diversos contactos ficam para sempre. Poucos se recordarão da primeira kill em determinado jogo, ou da primeira vez que atingiram este ou aquele recorde. Mas poucos esquecem quando algo de menos bom acontece a uma personagem que tenha deixado o seu crivo na vida de um jogador. Soap, da saga Call of Duty, Chloe, de Life is Strange, Mordin Solus de Mass Effect ou Lee Everett, de The Walking Dead deixaram as suas marcas, as suas cicatrizes em muitos jogadores espalhados por todo o mundo. Ora, experiências mais intensas, na primeira pessoa, deixarão cicatrizes incomensuravelmente mais profundas – e indesejadas. Há, portanto, essa preocupação a ter em conta: o alcance. Até que ponto se deverá e poderá ir nos videojogos.

Depois, há a questão do desenvolvimento e dos erros associados ao processo. No seu episódio Playtest, Black Mirror mostra-nos as consequências catastróficas de algo que não tinha sido devidamente previsto e salvaguardado. Com o risco de uma cicatriz maior, a responsabilidade do desenvolvimento aumenta de forma exponencial. Lançamentos como o de Assassin’s Creed: Unity não poderão realizar-se, se o impacto passa a ser marcante, destrutivo para os utilizadores a nível físico ou emocional. As leis do mercado não poderão ser as forças motrizes de todo o processo e regulamentação terá que ser imposta e fiscalizada, o que é contrário ao processo criativo actualmente ligado ao desenvolvimento de videojogos.
É normal haver ainda muitas dúvidas. Afinal, estamos a dar os primeiros passos em algumas novas tecnologias e o terreno ainda não é firme. Muito será ainda testado, muito será ainda debatido e ajustado até as coisas nos chegarem às mãos. Até lá, entretenham-nos. E Black Mirror faz isso com mestria.
[Black Mirror está disponível no serviço Netflix. Se já viram e for do vosso agrado, fica uma outra sugestão: Residue]













