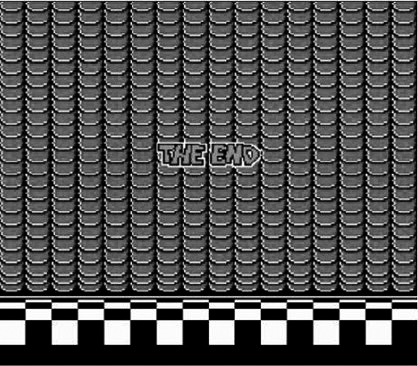
Este artigo de hoje está escrito há anos, ainda que só hoje tenha sido passado para palavras visíveis aos olhos de todos. Um artigo que foi sendo alterado na minha cabeça ao longo de largos meses, reflectido, que teimava em se ir reescrevendo na minha cabeça quando deitava a cabeça na almofada e as palavras que o compõem, como que se animadas por vida própria, decidissem reinventar-se sempre que fechava os olhos e trazia à memória e ao coração a imagem de alguém que já partiu.
Nem um mês tinha passado da entrada da Alexa Ramires na redacção do Rubber Chicken e já ela tinha, neste maravilhoso artigo sobre videojogos e perda, escrito a partir da experiência dela, o quanto conseguimos unir a experiência de jogar à memória de um ente querido que perdemos. E sendo essa a emoção subjacente ao meu artigo, esse tal com vida própria que se alimenta da dor da morte, e que vai mantendo vivo à luz da saudade, decidi encerrá-lo numa gaveta mental, para depois lá voltar, atrasar a sua publicação até um dia em que o texto se conseguisse finalmente materializar para além das barreiras do meu sofrimento.
O texto de hoje não é sobre Super Mario Bros. 3, o meu jogo favorito de todo o sempre, e cuja genialidade e marco no avançar do mercado dos videojogos é tão óbvio que pouco ou nada mais tenho para dizer. O texto não é sobre o facto de que Super Mario Bros. 3, o meu jogo favorito de todo o sempre, é sem sombra de dúvida uma pérola da Nintendo e se encaixa na perfeição nesta rubrica semanal dedicada ao inigualável catálogo de toda a companhia. Este texto é sobre o facto de que Super Mario Bros. 3, o meu jogo favorito de todo o sempre, me foi oferecido pela minha avó que me criou, e a quem sentirei sempre como mãe.
Considero-me um tipo cheio de sorte, mas não optimista. De entre todos os problemas que tive (e tenho, como todos nós) na vida, consigo olhar para todos os momentos e perceber que mesmo nos momentos de maiores trevas emocionais, sou indubitavelmente sortudo. Sortudo acima de tudo pelo tremendo amor que sempre me circundou e me circunda, amor esse que parece hereditário, transmissível, como uma marca genética do qual não conseguimos nem queremos fugir, um legado feliz que passo diariamente à minha mulher e ao meu filho. O amor é-me essencialmente um vestígio atávico que carrego desde tenra idade, e que trago no peito, altivo e confiante.
Quando penso na minha avó há um conforto imediato que me aquece como o abraço dela que me envolvia quando tinha a idade que o meu filho tem agora, e apenas o colo dela parecia ter todas as respostas para o crescente número de perguntas que tinha. Como o sorriso dela parecia dissipar as dúvidas sem ter de proferir palavra, para que esse mesmo sorriso fosse uma farol cuja luz rasgava em segundos o nevoeiro emocional à minha volta. Pensar nela é sentir um amor tremendo por uma das pessoas que mais amo. Ou amava.
Este é um problema do meu ateísmo. Uma dificuldade filosófica de compreender o tempo verbal do amor de quem partiu. Toda a minha família perdeu a minha avó há sete anos atrás, e esse foi o momento mais negro das nossas vidas. Uma família como tantas outras, onde o Catolicismo Apostólico Romano e as crenças associadas mantêm uma réstia de esperança de regressar aos braços no pós-vida de quem amamos e já partiu. Toda a família a perdeu, como se o mundo se tivesse rechaçado em dois, um pós e um ante-perda. Toda a família a perdeu, mas só duas pessoas a perderam para sempre: eu e o meu avô, cujo ateísmo e a irreligiosidade demarcaram a perda como definitiva, realmente eterna e infinita. Não sei se a sua inexistência corpórea me permite dizer que perdi uma das pessoas que mais amei na vida, ou se a permanência da existência da sua memória me confere o direito de utilizar o amor no presente do indicativo. Semântica, diria, um problema menor quando comparado à saudade.
Como disse anteriormente, sou um tipo com sorte. Dentro de toda a aleatoriedade possível, percebam o quão afortunado sou por, no Natal de 1992, a minha avó ter decidido comprar especificamente aquele jogo, Super Mario Bros. 3, num cartucho de Family Game azul celeste, e sentir, apesar de perceber pouco ou nada de videojogos, que era aquele jogo que me queria oferecer. E reparem o quão afortunado sou não só por tê-la tido na minha vida, a educar-me dentro dos seus valores e com todo o amor que me deu até aos dias em que a Doença de Alzheimer a foi tragando para um túnel longínquo, irreconhecível, afásico e vazio, mas porque a memória verdadeiramente profunda que associo a Super Mario Bros 3., o meu jogo favorito de todo o sempre, não só o do sublime jogo que marcou a nossa História, mas é a memória dela em cada nível, e em cada minuto passado num mundo em que passei meses da minha infância.
Passados 24 anos dessa maravilhosa prenda de Natal, passados quase 8 anos do pior dia da minha vida, ainda olho com carinho para o meu cartucho azul celeste de Super Mario Bros. 3, e todo o carinho que senti e sentia na casa onde cresci inunda-me e enche-me o peito, até subir até à garganta e ficar aí preso, à espera que as lágrimas sirvam de conforto para voltar a ocupar o espaço que lhe é devido no coração. Esse mesmo cartucho já não funciona, o que não significa que algum dia me irei desfazer dele. Fazê-lo era o equivalente a deitar fora uma parte de mim, uma pequena grande fatia do meu coração, e atá-lo com fios de memórias.
Já regressei muitas vezes a Super Mario Bros. 3, desde a morte da minha avó. E fazê-lo é reencontrar as muitas lembranças dos muitos e felizes momentos que passámos juntos. Fazê-lo é reencontrá-la para além das barreiras físicas do pensamento, como um encontro marcado nas plataformas e nos níveis que calcorreei em criança, com ela ao meu lado, a trazer-me um leite com chocolate quente e umas bolachas ou um pão, a aquecer-me o corpo nas tardes de Inverno, enquanto um beijo pousado na minha cabeça me aquecia o coração e a alma. Rejogar Super Mario Bros. 3 é o reencontro possível com uma das pessoas que mais amo ou amei, é ouvir-lhe a voz na banda-sonora que conheço de trás para a frente, e reconhecer-lhe o rosto como reconheço cada pequeno trecho do jogo.
Super Mario Bros. 3, o meu jogo favorito de todo o sempre, é a conversa sincera entre a minha não-crença ateísta e a saudade imensa que tenho da minha avó, de não partilhar momentos especiais da minha vida como o meu casamento ou o nascimento do meu filho. Como se o jogo racionalizasse a saudade e a dor da perda para que ela doa menos, para que ela me sofra menos ou que atenue o nó na garganta de revisitar sentimentos e momentos felizes.
Super Mario Bros. 3, o meu jogo favorito de todo o sempre é a porta da sala da casa onde cresci, de onde vejo entrar a minha avó, sorridente e carinhosa. Porque é assim que ela está esculpida pelas paredes da minha memória.













